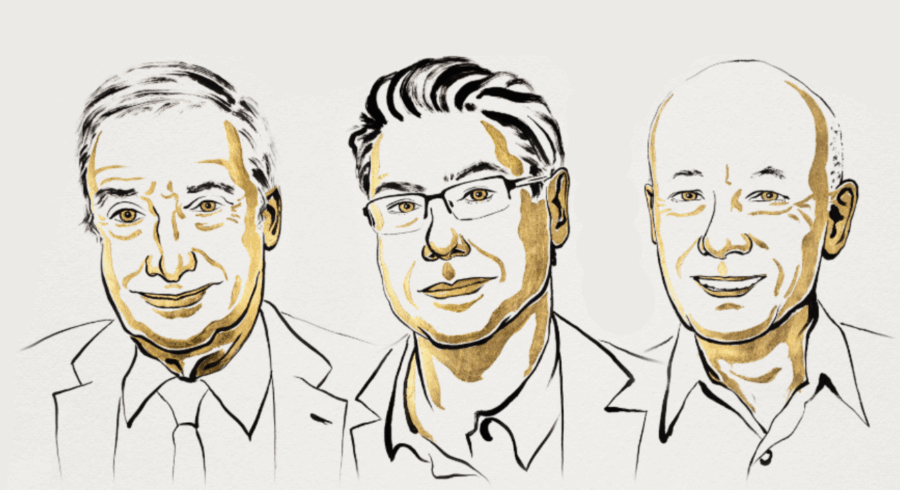Um trio de economistas que se dedicaram a explicar como o desenvolvimento científico e tecnológico é o combustível do crescimento econômico ganhou a edição de 2025 do Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel — conhecido popularmente como Prêmio Nobel de Economia.
O Prêmio Nobel surgiu por iniciativa do inventor da dinamite, Alfred Nobel, que, em seu testamento, estipulou que sua considerável herança seria destinada a financiar premiações anuais em dinheiro, a serem conferidas aos pesquisadores que se destacassem em cinco categorias: Medicina e Fisiologia, Física, Química, Literatura e Paz. Estas cinco premiações passaram a ser anunciadas a partir de 1901. A láurea para Economia só surgiu em 1968, com o objetivo de comemorar o aniversário de três séculos do Banco Central sueco, que se responsabilizou por prover a bolsa.
O economista Joel Mokyr, holandês que cresceu em Israel e hoje vive e leciona nos EUA, recebeu metade do total de 11 milhões de coroas suecas (o equivalente a R$ 3,1 milhões) por ter “identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentado por meio do progresso tecnológico”. Por sua vez, o francês Philippe Aghion e o canadense Peter Howitt dividiram a outra metade do prêmio — R$ 1,55 milhão cada — por “construírem um modelo matemático de como as empresas investem em processos de produção melhorados e produtos novos, de maior qualidade, enquanto empresas que anteriormente tinham os melhores produtos acabam superadas”.
Em seu comunicado oficial, a Academia Sueca explicou que “nos últimos dois séculos, o mundo testemunhou mais crescimento econômico do que em qualquer outro momento da história. Em suas bases está um fluxo constante de inovação tecnológica; o crescimento sustentado ocorre conforme novas tecnologias substituem as antigas em um processo conhecido como destruição criativa. Os laureados deste ano explicam, usando diferentes métodos, como esse desenvolvimento foi possível.”
Os vencedores do prêmio seguem uma linha teórica chamada neo-schumpeteriana, baseada no trabalho do economista austríaco Joseph Schumpeter, que atuou na primeira metade do século 20. Schumpeter foi pioneiro em reconhecer a importância do desenvolvimento tecnológico para o crescimento de um país.
“A contribuição de Schumpeter à teoria econômica vai muito além de entender a inovação como o motor do crescimento econômico”, explica Gustavo Pereira Serra, professor da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) da Unesp no câmpus de Araraquara. “Ele traz uma análise da dinâmica econômica que foge às visões baseadas na noção de equilíbrio. Em sua análise, o desenvolvimento econômico é um processo dinâmico, caracterizado por mudanças estruturais.”
Boom econômico europeu no século 19 resultou de integração entre teoria e prática
Ao longo da História, a qualidade de vida da maior parte da população mundial não melhorou sensivelmente de geração em geração. É evidente que, volta e meia, certas nações e impérios passaram por surtos localizados de crescimento econômico. Mas os avanços científico-tecnológicos da Europa anteriores a 1700 (como os moinhos de vento, a prensa tipográfica e o trabalho de Newton) não se traduziram em um crescimento perceptível do PIB per capita. O mesmo vale para a China, pioneira no desenvolvimento do papel, da bússola e da pólvora.
De acordo com o laureado Joel Mokyr, essas invenções brilhantes não conseguiram gerar prosperidade em curto prazo porque não havia uma ponte sólida entre dois tipos de conhecimento: o proposicional, que se concentra em uma descrição sistemática das regularidades no mundo natural e demonstra por que algo funciona; e o prescritivo, que diz respeito aos aspectos práticos que traduzem uma descoberta em uma inovação.
Até o desenvolvimento da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra por volta de 1760, era comum que faltasse uma compreensão mais profunda sobre as causas dos fenômenos que eram observados e descritos. Ou seja: o conhecimento prescritivo e o proposicional não andavam de mãos dadas. As tentativas medievais de construir máquinas de moto perpétuo, ou obter um elixir da vida eterna, são exemplos de como é fácil desperdiçar esforços experimentais quando não há bases teóricas sólidas. O acesso a constatações básicas sobre o funcionamento da natureza, como as leis da termodinâmica, teria permitido que alquimistas e inventores dedicassem sua engenhosidade a metas plausíveis.
Com a chamada Revolução Científica na Europa, ao longo dos séculos 16 e 17, o vão entre prescrição e proposição foi encolhendo graças a métodos de medição mais precisos, experimentos controlados e à cobrança por resultados reproduzíveis (uma descoberta só é válida se outros pesquisadores forem capazes de chegar às mesmas conclusões ao repetir o experimento de maneira independente). As máquinas a vapor se tornaram mais eficazes graças aos conhecimentos sobre pressão atmosférica e vácuo, enquanto a siderurgia se beneficiou do entendimento de como o oxigênio reage com o chamado ferro gusa para eliminar o excesso de carbono em sua composição e permitir a fabricação de aço.
Desde o século 19, os países desenvolvidos e em desenvolvimento que conseguiram implantar uma indústria calcada na retroalimentação entre teoria e prática — na colaboração entre ciência básica e aplicada — têm sustentado uma taxa de crescimento de aproximadamente 2% ao ano (em média, é claro: houve períodos de recessão ou aceleração nesse meio-tempo). Isso é suficiente para dobrar a renda de um cidadão comum ao longo de sua vida profissional, o que se converteu em um aumento inédito na qualidade de vida ao longo do século 20.
Veja-se o caso da China. O país cresceu quase 10% ao ano, em média, entre 1978 e 2011, e pulou de cerca de 2% do PIB do globo para os 17% atuais. No processo, 800 milhões de seus cidadãos superaram o estado de pobreza extrema, número que corresponde a mais da metade de todas as pessoas da Terra que viviam com menos de US$ 1,90 por dia, o critério adotado pelo Banco Mundial.
Esse feito foi possível graças a investimentos massivos e bem-sucedidos na indústria e na pesquisa científica, que também ocorreram em Taiwan, Coreia do Sul e outros territórios do grupo apelidado de “tigres asiáticos”. Hoje, carros elétricos da BYD ou celulares da Xiaomi e Huawei concorrem de igual para igual com a indústria europeia e americana, bem mais antigas.
“O entendimento de que uma indústria diversificada e de alta tecnologia é crucial para o desenvolvimento econômico não é consenso”, diz Serra. “Muitos economistas mantêm uma visão sustentada pela Teoria das Vantagens Comparativas, de David Ricardo, segundo a qual a melhor estratégia é se especializar nas áreas em que se dispõe de vantagem comparativa no comércio internacional. Por exemplo: se já existem economias competitivas com indústrias de alta tecnologia no mundo, a melhor forma de o Brasil se inserir nesse mercado internacional seria fazer o que ele tem de vantagem, que estaria na produção de commodities [produtos de baixo valor agregado, como petróleo e soja].”
Criação e destruição de mãos dadas
Embora o crescimento econômico de uma nação industrializada pareça estável sob uma perspectiva de longo prazo, um “zoom” temporal mostra que essa estabilidade é uma espécie de média de processos muito mais turbulentos ocorrendo em menor escala. O tempo todo, novas empresas abrem e fecham; funcionários são contratados e demitidos, setores inteiros de atividade econômica se tornam obsoletos ou ganham importância desproporcional.
Uma empresa tem interesse em investir em pesquisa porque produtos inovadores são patenteáveis, e as patentes são uma garantia de que a companhia passará alguns anos exercendo o monopólio da exploração econômica de sua criação. Porém, novas patentes geram produtos que superam os antigos em custo-benefício, e firmas inteiras podem sucumbir a esse processo (como foi o caso, por exemplo, de empresas especializadas em fotografia após a banalização de câmeras digitais de alta qualidade em celulares). Esse é, grosso modo, o conceito de “destruição criativa”.
“Algo que Schumpeter considera, e também é abordado por tais autores [os laureados], é o modo como a inovação implica riscos — de falha técnica de produção ou fracasso comercial, por exemplo — e como a introdução dessa inovação no mercado pode alterar a competição entre as firmas, visto que a firma inovadora terá um diferencial por certo tempo, ao menos enquanto não for imitada pelas concorrentes”, explica Serra.
Em 1992, Philippe Aghion e Peter Howitt, os dois laureados que compartilham o prêmio com Mokyr, publicaram um modelo matemático que ajuda a responder perguntas como a seguinte: até que ponto é vantajoso para as empresas investirem espontaneamente em pesquisa, e a partir de que ponto o Estado deve subsidiar as empresas para incentivá-las em favor do crescimento econômico?
“Os lucros com uma inovação não durarão para sempre. Cedo ou tarde, outra empresa lançará um produto melhor. Da perspectiva da sociedade, no entanto, o valor da inovação antiga não desaparece, pois a nova se baseia no conhecimento antigo”, explica o texto de divulgação oficial do Nobel. “Inovações superadas pela concorrência, portanto, têm um valor maior para a sociedade do que para as empresas que as desenvolvem, o que torna os incentivos privados para P&D menores do que os ganhos para a sociedade como um todo. A sociedade pode, portanto, se beneficiar do subsídio à P&D.”
Porém, dependendo das variáveis que se inserem nesse modelo matemático, é possível desenhar uma situação alternativa — em que o lucro de uma empresa com uma determinada invenção é imenso, mesmo que o grau de inovação em relação à invenção anterior não seja tão acentuado. Nessa situação, o investimento do Estado em pesquisa dentro das empresas pode gerar mais lucro para o setor privado do que ganhos socioeconômicos para a população como um todo. Ambas as situações, evidentemente, são possíveis na vida real.
Modelos como esses são ferramentas importantes para entender tendências econômicas contemporâneas e orientar investimentos na indústria e nos ecossistemas de pesquisa e desenvolvimento. “Estagnação, e não crescimento, foi a norma por boa parte da história humana”, escreve a Academia Sueca no anúncio oficial. “Essas ameaças podem vir de monopólios, restrições à liberdade acadêmica e boicotes de grupos em desvantagem. Podemos evitar esse desfecho seguindo os insights vitais dos laureados.”
Crédito: Niklas Elmehed | Nobel Prize Outreach