A febre Oropouche alarmou o Brasil em 2024 ao se expandir além de sua abrangência típica, limitada à Amazônia, e alcançar estados das cinco regiões do país: 22 das 27 unidades federativas já registraram pelo menos um caso confirmado em laboratório. O Espírito Santo liderou o ranking, com 6,3 mil testes positivos só no ano passado — número que equivale a 45% dos 13,8 mil casos registrados no Brasil em 2024 e 39% do total de 16,2 mil pessoas infectadas nas Américas como um todo nesse mesmo período.
Em 2025, o vírus não diminuiu o ritmo. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), publicado em 13 de agosto, já houve 12,7 mil casos confirmados desde janeiro. Destes, 11,8 mil ocorreram no Brasil, com 6,3 mil no Espírito Santo, e os demais distribuídos por outros países latino-americanos e caribenhos. Além do próprio Brasil, os países mais afetados são Panamá (501 casos) e Peru (330). Segundo os dados do Ministério da Saúde até 30 de outubro, foram 11.930 casos, cinco óbitos confirmados e dois sob investigação.
No estado de São Paulo, o crescimento foi significativo, passando de 8 casos em 2024 para 161 até setembro deste ano, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde.
A expansão da doença, que é causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense (OROV), para fora da região amazônica intrigou infectologistas e epidemiologistas. Um novo estudo, conduzido por pesquisadores da Unesp, da USP e do Instituto Butantan, identificou os principais fatores que favoreceram essa movimentação, e estão empregando esses dados para prever, na medida do possível, seus próximos passos.
O artigo publicado no periódico PLOS One em julho explica que a infecção pelo vírus tem se mostrado mais comum em lugares que registram temperaturas e índices de precipitação acima da média. Essas condições favorecem a reprodução tanto do vírus quanto de seu vetor Culicoides paraensis, um inseto conhecido popularmente como mosquito-pólvora ou maruim. O aumento das chuvas e do calor se deveu, em parte, ao fenômeno de aquecimento global e ao fenômeno El Niño, que ocorreu entre 2023 e 2024 (entenda melhor nesta reportagem).
Um dos autores do artigo é Tiago Salomão, pós-doutorando no Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE) da Unesp, no câmpus de Rio Claro, que pesquisa a interação entre mudanças climáticas e doenças com potencial epidêmico. Ele diz que as chamadas mudanças no uso da terra constituem outro fator que contribuiu para a explosão de casos a partir de 2024.
Conforme a mata nativa é removida para dar lugar a pastagens, plantações de soja e outras monoculturas, a biodiversidade diminui. Isso representa menos predadores e competidores capazes de interagir com a população de maruins, que se beneficia desse contexto e se expande. “Em biomas preservados, há mais concorrência com outros insetos e os Culicoides não conseguem se multiplicar no mesmo ritmo”, diz ele.
A nova pesquisa sustenta que alguns cultivos, como banana, dendê e algodão, se mostram especialmente benéficos para a subsistência dos Culicoides, devido ao acúmulo de matéria orgânica em decomposição no solo, que serve de alimento às larvas. Os dados também mostram que regiões denominadas “periurbanas”, de transição entre campo e cidade, são mais afetadas do que ambientes exclusivamente rurais ou urbanos, e que a existência de indicadores socioeconômicos menos favoráveis também se reflete em uma quantidade maior de casos.
Além dessas variáveis ambientais, é provável que uma mudança no genoma tenha aumentado a transmissibilidade do vírus OROV. Experimentos de laboratório com células de mamíferos isoladas mostram que uma cepa recente atinge concentrações até cem vezes mais altas que a versão comum ao se multiplicar em laboratório –- e pode ser que essa variante consiga driblar a memória imunológica de pessoas que já haviam contraído a doença no passado.
Mapa prevê áreas de risco
Determinar quais características tornam uma região mais ou menos suscetível à oropouche ajuda a prever onde novos surtos ocorrerão em um futuro próximo. Os pesquisadores incluíram no estudo um mapa de zonas suscetíveis [veja abaixo] — que previu corretamente, por exemplo, a chegada recente do OROV às praias paulistas.
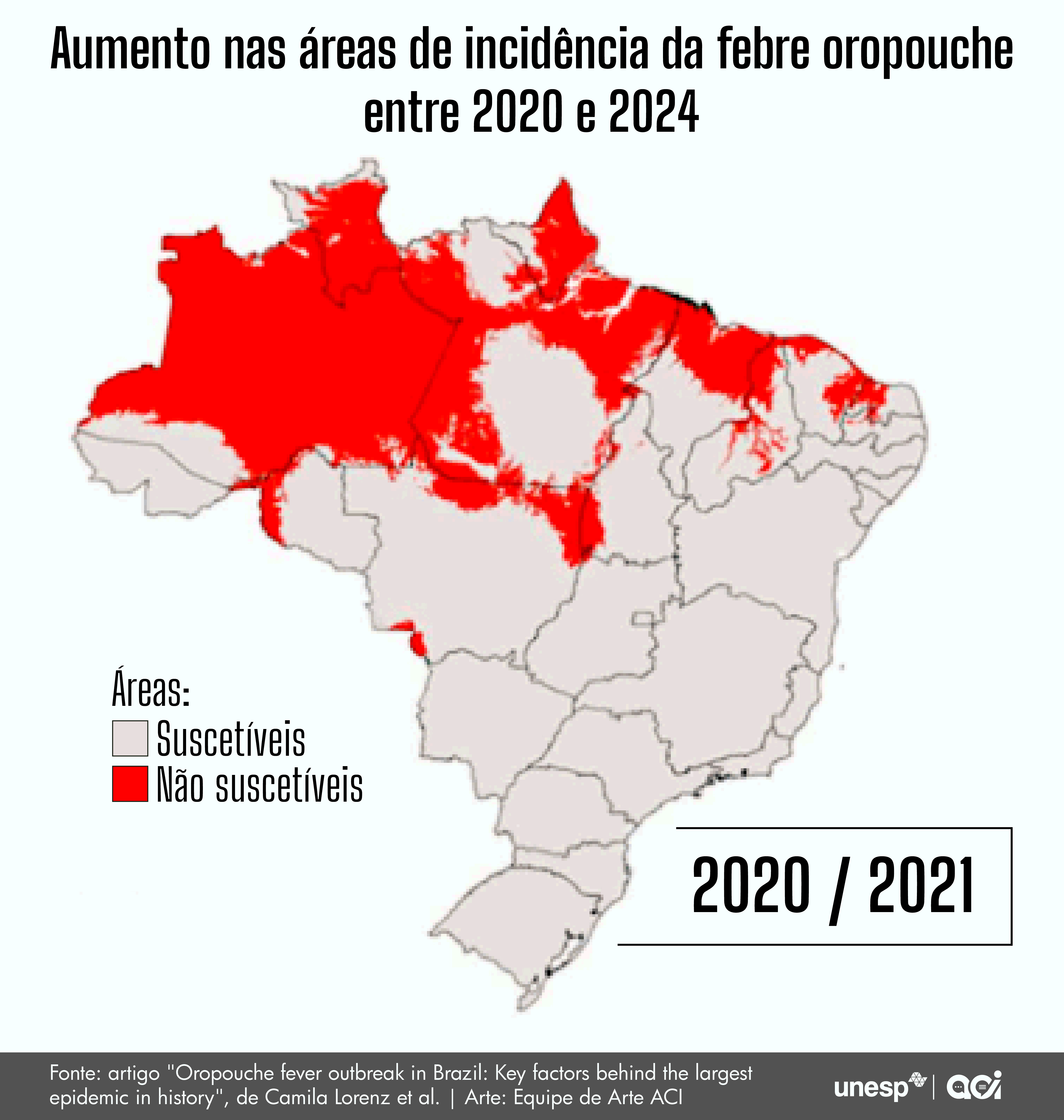
“Em 2024, houve sete casos de Oropouche no litoral sul de São Paulo, na região do Vale do Ribeira”, conta Salomão. “Este ano, até junho, o número já tinha chegado a 130. E a doença apareceu em Ubatuba, no litoral norte, com 30 casos registrados”, diz. “Essa foi uma contribuição importante do trabalho: por meio de análise preditiva, conseguimos verificar as áreas de maior suscetibilidade.”
Camila Lorenz, pesquisadora no Departamento de Parasitologia do Instituto Butantan e primeira autora do artigo, já havia aplicado a mesma metodologia no passado para entender a distribuição geográfica do vírus do Nilo Ocidental, outra doença tropical negligenciada. “Nos dois casos, Nilo Ocidental e Oropouche, identificamos os lugares em que a doença foi reportada e inserimos no software”, explica Lorenz. “A seguir, acrescentamos informações sobre o clima, o uso do solo e dados socioambientais. O programa então apontou quais variáveis estavam mais relacionadas com a distribuição dos casos”, diz ela.
Essa análise permite identificar sutilezas como a temperatura ambiente ideal para o vetor e o vírus. “Quando está muito frio, os insetos ficam inativos, letárgicos. A temperatura ótima está por volta dos 27 °C”, explica Lorenz. “Uma temperatura acima disso não é favorável, porque afeta o comportamento das pessoas, além do próprio vetor. Por exemplo: sabe-se que, no caso do Aedes aegypti, que transmite a dengue, nos dias muito quentes a tendência é ficarmos mais em casa, em lugares com ar-condicionado, e evitamos atividades ao ar livre. Isso reduz o contato com o mosquito”, explica.
Conhecimento sobre oropouche ainda tem lacunas importantes
A febre Oropouche apresenta sintomas similares aos da dengue: febre de até 40 °C e dores características atrás dos olhos, nos músculos e nas juntas. Náuseas, vômitos, fotofobia e irritação na pele são outros sinais comuns. Ela é causada por um arbovírus do gênero Orthobunyavirus, isolado e descrito em 1955 a partir do sangue de um silvicultor em um vilarejo às margens do Rio Oropouche, em Trinidad e Tobago, um país insular caribenho localizado a apenas 15 km do litoral venezuelano.
Aves e primatas não humanos são hospedeiros comuns, bem como a preguiça-de-bentinho, um mamífero amazônico. É normal que um mosquito transmita a doença de um animal infectado para um humano saudável, ainda que, nas cidades, predomine o contágio de humano para humano.
Trata-se da segunda arbovirose mais comum do Brasil, atrás apenas da própria dengue. Belém registrou 11 mil casos durante um surto particularmente grave em 1961. Entre 1978 e 1980, anos em que houve um pico de disseminação, houve 130 mil infectados confirmados nas Américas, a maioria no Brasil. Estima-se que, ao todo, meio milhão de casos tenham ocorrido país afora durante a segunda metade do século 20.
Porém, como a doença raramente é fatal, os sintomas não costumam durar mais de uma semana e muitas vítimas habitam assentamentos inacessíveis por via terrestre, a testagem deixa a desejar, e a febre é severamente subnotificada. Hoje, na Amazônia, 60% da população vive a mais de 10 km de distância da UBS mais próxima. Esse problema de infraestrutura dificulta a análise da série histórica: não sabemos até que ponto a doença realmente aumentou no Norte do país ou se, na verdade, ela permanece estável e o crescimento que testemunhamos ocorreu simplesmente porque hoje é possível diagnosticar mais pessoas.
Esse não é o único mistério no caminho das pesquisas sobre a Oropouche. Por exemplo: sabe-se que há lugares em que a doença já apareceu sem que houvesse registro da presença do vetor principal. Por isso, “especula-se que outros mosquitos além do maruim, como o Culex quinquefasciatus [nome científico do pernilongo ou muriçoca comum em todo o Brasil] e o próprio Aedes aegypti, sejam vetores, mas não há nada comprovado ainda”, diz Salomão. “Essa incerteza, por si só, dificulta bastante a determinação de todos os fatores-chave causadores do surto de 2024. Algum vetor ali está exercendo esse papel.”
De acordo com Salomão e Lorenz, os dados não permitem cravar se a Oropouche se tornará endêmica no Centro-Sul brasileiro ou se haverá novas ondas nos próximos meses. Uma coisa, porém, é certa: com o aumento na temperatura média da atmosfera e das águas, causado pelas emissões de gases de efeito estufa, e a destruição de fatias enormes do Cerrado e da Amazônia para dar lugar à agropecuária, as variáveis associadas à disseminação do OROV não tendem a melhorar em um futuro próximo.
“Se a temperatura muda em 1 °C ou 2 °C, já mudam uma série de outros fatores por trás da transmissão”, diz Lorenz. “É por isso que o pessoal está tão preocupado com o aquecimento global. O que vai acontecer? Não sabemos. Pode ser que o vírus se adapte ou pode ser que não haja transmissão.” Para a pesquisadora, é importante que as autoridades caprichem cada vez mais na testagem dessa e de outras doenças tropicais tradicionalmente negligenciadas, de modo a gerar dados epidemiológicos precisos — e manter os pesquisadores um passo à frente dos vírus.
Imagem acima: ilustração do Orthobunyavirus oropoucheense. Crédito Ademildo Mendes/SVSA
